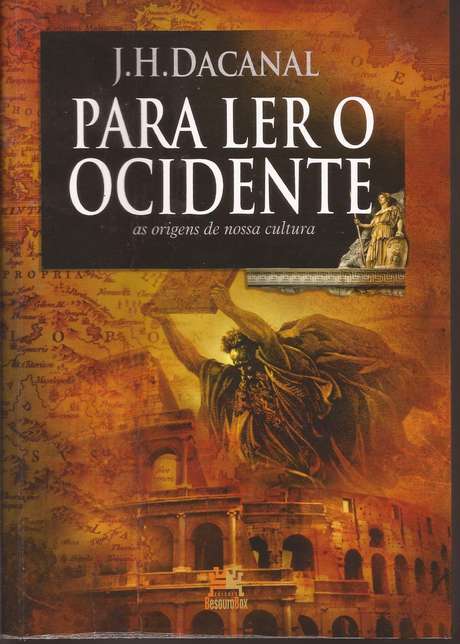Saudada pela Igreja, a ditadura tomou o poder no Brasil. Mas bispos e frades ajudaram a sociedade civil a reencontrar o caminho da democracia
TEXTO Igor Natusch | 18/08/2014 16h40
O golpe que lançou o Brasil em 21 anos de regime militar em 1964 encheu de euforia o coração de um presbítero de Petrópolis (RJ). Reconhecendo na “revolução” a chance de um novo país, livre do comunismo ateu que ameaçava a cristandade, o padre deslocou-se até o Rio de Janeiro com um só objetivo: dar a bênção às tropas do general Olímpio Mourão Filho, que tinham vindo desde a mineira Juiz de Fora para ocupar a Guanabara.
Dois anos depois, esse religioso, chamado Paulo Evaristo Arns, foi ordenado bispo; em 1970, assumiu como arcebispo de São Paulo. Desde então, o outrora entusiasta da ascensão dos militares assumiu posição decisiva na contestação e denúncia dos crimes da ditadura. Lutou contra a tortura, liderou o histórico ato na Catedral da Sé em memória do jornalista Vladimir Herzog, criou a Comissão Justiça e Paz e abraçou o projeto Brasil: Nunca Mais, que evitou o sumiço de milhares de documentos fundamentais para contar a história daqueles dias. Hoje é considerado, com justiça, um herói da resistência aos generais – um contraste e tanto com o apoio prestado ao então recém-nascido regime.

As posturas de dom Paulo são representativas da trajetória da Igreja Católica durante a ditadura no Brasil. Um caminho acidentado no qual, após a euforia pela queda de João Goulart, posições conservadoras e atos de reação conviveram durante muito tempo, até que a ilusão de um governo redentor desabasse e a redemocratização se tornasse inevitável. Em um país de forte base católica, os movimentos da Igreja desenham a própria postura da sociedade civil diante do estado de exceção que a muitos pareceu promissor, mas que com o tempo se revelou intolerável.
O apoio
“Em maio de 1964”, diz o historiador Paulo César Gomes Bezerra, “um manifesto assinado por 26 bispos da CNBB agradecia aos militares por ‘salvarem’ o país do perigo iminente do comunismo”. Bezerra é autor de Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira: a Visão da Espionagem, que será publicado em 2014 pela Editora Record para marcar os 50 anos do evento. A declaração dos bispos manifestava gratidão aos novos governantes por terem “acudido a tempo” e impedido a consumação de um “regime bolchevista” no Brasil. “Ao rendermos graças a Deus”, dizia o documento, “agradecemos aos militares que, com grave risco de suas vidas, se levantaram em nome dos supremos interesses da nação.”
As palavras refletem um sentimento que animou boa parte das ações da Igreja naqueles dias: o temor diante do comunismo, destruidor da família, que vinha para esmagar os preceitos cristãos. Mas demonstra também uma proximidade com o poder, o que, no caso brasileiro, não era novidade. No país, até o final do século 19, a Igreja nem sequer existia como entidade autônoma. No sistema do padroado, eram os governantes que nomeavam bispos e padres, além de financiarem e administrarem grande parte da estrutura eclesiástica. Mesmo com a República e a institucionalização do Estado laico, a ligação estreita se manteve – e os dirigentes entendiam bem a importância do apoio religioso às suas decisões.
A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, decisiva como suporte ideológico e popular ao movimento militar, evidenciava tais laços, uma vez que a Igreja atuou fortemente na organização das manifestações. Em São Paulo, Leonor Mendes de Barros, esposa do governador Ademar de Barros, ao fim da marcha, assistiu à missa do padre irlandês Patrick Peyton, que estava no Brasil a convite do cardeal Jaime de Barros Câmara, da Arquidiocese do Rio.
Manifestações semelhantes ocorreram no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. O padre Antônio Abreu, ligado há mais de 40 anos ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (Ibrades), organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), descreve outros aspectos que influenciaram a posição da instituição. Segundo ele, além de proteger a Igreja e a cristandade, havia entre alguns simpatia por um nacionalismo popular de base militar, a exemplo do que Gamal Abdel Nasser promovia no Egito. “No momento do golpe, a identificação da Igreja era com as elites em geral, em uma postura política antiliberal e antidemocrática”, afirma Abreu. “Entre os que realmente queriam políticas públicas de caráter social, parcela razoável acreditava ser mais provável os militares realizarem aquilo que na democracia não era viável. Julgavam ditaduras esclarecidas mais eficazes para o bem público.”
Fundada em 1952, a CNBB elegeu em 1964 uma direção conservadora. A presidência ficou com dom Agnelo Rossi, que logo em seguida seria nomeado pelo papa Paulo VI arcebispo de São Paulo. O então secretário-geral da entidade, dom Hélder Câmara, opositor de primeira hora do regime, foi deslocado do Rio de Janeiro para a arquidiocese de Olinda e Recife, sendo substituído por dom José Gonçalves, mais simpático aos novos tempos. Com uma elite católica pronta a dar seu aval, os militares estavam legitimados para agir.
Apesar do conservadorismo da cúpula, vivia-se um período de renovação na Igreja Católica. Entre 1962 e 1965, ocorreu o Concílio Vaticano II, uma das mais amplas reformas da história do catolicismo. A partir dele, a Igreja tentou transformar sua relação com a sociedade, colocando em primeiro plano a justiça social, a defesa dos direitos humanos e o auxílio aos necessitados de todos os tipos. Era momento de repensar a relação da fé católica com o ambiente político e social que a cercava – um sopro de mudança que demorou um pouco a arejar o alto comando da Igreja brasileira, ainda que tenha sido percebido em outros lugares.
A contestação
O apoio da Igreja Católica ao golpe pode ter sido majoritário, mas não foi unânime. O bispo de Volta Redonda, dom Waldyr Calheiros, foi quase um pioneiro: já na noite do 31 de março de 1964 leu um sermão cheio de comentários desabonadores à derrubada de Jango. Sem contar a oposição férrea de dom Hélder Câmara – um homem tão combativo que logo passou a ser monitorado de perto pelos militares. Pelo menos desde 1966, o Centro de Informações da Polícia Federal abastecia um dossiê sobre o bispo, e a divisão de segurança e informações do Itamaraty fazia de tudo para impedir suas viagens ao exterior – nas quais ele invariavelmente denunciava a violência da ditadura brasileira. A partir de 1970, a imprensa não podia nem ao menos citar o nome de dom Hélder, para o bem ou para o mal; era como se o religioso, mesmo vivo e atuante, não existisse.
Os mandatários religiosos seguiam alinhados aos militares, mas outras esferas adotavam uma postura crescente de resistência e contestação. “A Igreja, em todos os tempos e lugares, sempre refletiu a luta de classes, como todas as instituições”, afirma Frei Betto, dominicano famoso pela atuação em movimentos pastorais e sociais. Ele tomou parte direta na mais explícita atuação de setores da Igreja junto à guerrilha: o alinhamento com a Aliança Libertadora Nacional, de Carlos Marighella.
Enquanto os dominicanos como Frei Betto auxiliavam pessoas a fugir do Brasil, o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Eugênio Sales, oferecia ajuda a indivíduos perseguidos por outras ditaduras da América do Sul. Iniciado em 1976, o processo ganhou tal volume que, a partir de 1979, o bispo chegou a hospedá-los em sua própria residência, na Rua da Glória. Ao todo, com o apoio da Cáritas brasileira e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), dom Eugênio teria socorrido, até 1982, mais de 4 mil pessoas. Alguns chegavam por iniciativa do então padre da Companhia de Jesus argentina Jorge Mario Bergoglio, hoje papa Francisco. Tanto dom Eugênio quanto dom Paulo Evaristo Arns teriam recebido pessoas enviadas por Bergoglio ao Brasil – uma das muitas histórias que evidenciam a colaboração entre religiosos no continente.

A ditadura não estava alheia a esses movimentos e começou a agir de forma cada vez mais dura. Em 1966 o padre Henrique Pereira Neto, auxiliar de dom Hélder Câmara, foi assassinado pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC), um grupo paramilitar. A partir daí, o porão do regime perdeu o constrangimento e se voltou contra a Igreja. A reação dos órgãos eclesiásticos, em princípio, foi tímida: apenas em maio de 1970 viria o primeiro documento da CNBB denunciando a prática de tortura no país, ainda assim com o cuidado de criticar também ações atribuídas à esquerda, como assaltos e sequestros. Em outubro daquele ano, porém, a prisão do secretário-geral da CNBB, dom Aloísio Lorscheider, durante uma ação do Departamento de Ordem Pública e Social (Dops) na sede do Ibrades, azedou totalmente o diálogo. Foi a primeira vez que um alto dirigente da CNBB viu-se nas mãos dos militares.
Lorscheider ficou preso durante cerca de quatro horas. Tempo suficiente para o alto clero atacar o regime com ousadia inédita. Os cardeais chegaram a enviar carta diretamente ao então presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, lamentando a “deterioração” de seus vínculos. O impacto internacional também foi péssimo: a imprensa do Vaticano noticiou o fato e até o papa Paulo VI manifestou publicamente apoio aos bispos brasileiros. “Foi quando se resolveu criar a Comissão Bipartite, que funcionou entre 1970 e 1974, com o intuito de promover diálogos entre a Igreja e o Estado e evitar a ruptura”, afirma o historiador Paulo César Gomes Bezerra. O efeito da medida, contudo, foi limitado: as relações entre as instituições jamais voltariam a ser as mesmas.
Dominicanos no cárcere
Nenhum setor da Igreja brasileira foi tão fundo na oposição ao regime quanto os dominicanos. Os frades passaram a apoiar perseguidos políticos que precisavam esconder-se ou fugir do país. Foi essa ação que os aproximou de Carlos Marighella e da Aliança Libertadora Nacional. Em 1968, com o advento do AI-5, a repressão chegou ao momento mais duro – e Frei Betto, morando no Rio Grande do Sul, ajudou dezenas de pessoas a atravessar a fronteira do Uruguai.
A ligação dos dominicanos com questões sociais e políticas vem desde os anos 1940, a partir da Ação Católica (AC), movimento que buscava maior inserção da Igreja junto aos movimentos da sociedade civil. Como forma de recrutar estudantes, surgiram dentro da AC grupos como a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude Universitária Católica (JUC). A partir deles, nasceu a Ação Popular (AP), segundo Frei Betto “um movimento de esquerda, laico, independente da Igreja”, com forte presença dos dominicanos e forte inserção no meio universitário. Depois do golpe, a organização passou à clandestinidade.
Com o endurecimento do regime, os serviços de inteligência passaram a prestar especial atenção nos dominicanos, levando a uma série de prisões, como a dos frades Fernando, Ivo e Tito, todos alvo de torturas e expostos como terroristas. O caso de frei Tito tornou-se tristemente célebre: incapaz de conciliar-se com as memórias dos padecimentos, ele se suicidou nos arredores de um convento francês em 1974, aos 28 anos. No exílio ou na cadeia, os dominicanos continuavam incomodando o poder.
“Nós, religiosos presos, éramos a principal fonte de denúncia no exterior dos crimes praticados pela ditadura. E o papa Paulo VI nos deu ouvidos e apoio”, diz Frei Betto. “Na tentativa de nos neutralizar, nos obrigaram a partilhar do mesmo regime carcerário dos presos comuns. Nem assim cessamos as denúncias, pois as informações sempre nos chegavam.” A voz dos dominicanos ecoou em todo o mundo e levou a uma rejeição cada vez maior à ditadura no exterior.
A denúncia
Em 1970, a mudança de comando na Arquidiocese de São Paulo aumentou o fosso entre Igreja e militares. Frei Betto afirma que, mesmo após visitar dominicanos no Dops e ouvir seus relatos, o então arcebispo, dom Agnelo Rossi, seguia negando que houvesse tortura nas prisões. O Vaticano, então, resolveu transferir dom Agnelo a Roma – uma espécie de promoção às avessas, já que abriu espaço para seu auxiliar, dom Paulo Evaristo Arns, assumir a arquidiocese.
A essa altura, a simpatia de dom Paulo pelo golpe já tinha virado fumaça. Ele se tornou firme opositor da ditadura no Brasil, tanto no discurso quanto na prática: fundou a Comissão Justiça e Paz, o grupo Clamor (uma rede de solidariedade a fugitivos das ditaduras sul-americanas) e o projeto Brasil: Nunca Mais, que reunia em segredo documentos relativos aos porões da ditadura militar. Além disso, promoveu a criação de várias pastorais (como a da Moradia, a da Criança e a Operária), de valioso papel na consolidação dos movimentos sociais na reta final do período dos militares no comando do país.
Durante os anos de chumbo, surgiram também as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Incentivadas por seguidores da Teologia da Libertação, como Leonardo Boff e o próprio Frei Betto, as CEBs tentavam suprir a falta de sacerdotes nas áreas de baixa renda, em especial no Nordeste. “Por serem movimento de Igreja, a repressão não deu muita importância a elas, que se tornaram incubadoras de movimentos populares”, diz Frei Betto.
Em 1975, o caso do jornalista Vladimir Herzog, torturado até a morte no quartel-general do II Exército, em São Paulo (veja ao lado), abalou os alicerces do regime. A partir do episódio, ficou impossível negar o que acontecia nos porões. No ano seguinte, o metalúrgico Manuel Fiel Filho foi outra vítima fatal da tortura nas prisões do Doi-Codi. A repercussão do assassinato – mais um suicídio por enforcamento, na versão dos militares – foi tão expressiva que o general Ednardo d’Ávila Mello, advertido pelo presidente Ernesto Geisel no caso Herzog, foi exonerado do comando do II Exército. Para o jornalista Elio Gaspari, autor da maior obra sobre a ditadura militar brasileira, o enquadramento de Geisel aos militares do porão no episódio marcou o fim da bagunça na tropa.
A essa altura, a Igreja tinha assumido uma postura de clara oposição. No final dos anos 1970, as Forças Armadas tentaram sem sucesso deportar dom Pedro Casaldáliga, bispo de origem catalã que atuava na região de São Félix do Araguaia (MT). Próximo de dom Pedro, o padre João Bosco foi morto em 1976 com um tiro dentro de uma delegacia onde tinha ido denunciar abusos contra camponeses. A sequência da queda de braço com os religiosos incluiu investigação a outros bispos, como dom Fernando Gomes e dom Waldyr Calheiros, e o monitoramento de perto do jornal O São Paulo, da Arquidiocese da cidade – o último veículo brasileiro a livrar-se da censura prévia, já em 1978.
O ato ecumênico por Herzog na Sé
“A morte do Vlado evidenciou muitas ações dos bispos. Antes, o registro do que diziam ficava no canto de página dos jornais. Isso quando saía”, diz o jornalista Audálio Dantas, autor de As Duas Guerras de Vlado Herzog, livro-reportagem que recebeu o Prêmio Jabuti em 2013. A versão de suicídio apresentada pelos militares foi contestada não apenas pelos colegas do jornalista morto, mas também por líderes religiosos. Herzog era judeu. Segundo o rito judaico, os suicidas devem ser enterrados perto dos muros dos cemitérios. Mas ao ver o corpo, o rabino Henri Sobel tomou uma decisão que teve o peso de denúncia: ordenou que Herzog fosse enterrado na área comum do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, um claro desmentido à versão dos militares.
Foi o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, do qual Audálio fazia parte, que teve a ideia de um culto ecumênico em memória de Herzog. No dia 28 de outubro, mesma data em que dom Paulo concordou em ceder a Catedral da Sé para o ato, dom Eugênio Salles recusou no Rio de Janeiro pedido da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) para uma missa com o mesmo objetivo. A recusa não era inexplicável: o clima era de tensão, com constantes ameaças. Pouco antes do ato na Sé, dom Paulo Evaristo Arns foi visitado por dois secretários do governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins. Segundo os emissários, centenas de policiais tinham ordens de atirar ao menor sinal de confusão. Usando uma inauguração como pretexto, o presidente Geisel abalou-se de Brasília para a capital paulista para acompanhar os desdobramentos. “Só foi embora quando o culto terminou”, diz Audálio.
O culto ecumênico aconteceu no dia 31 de outubro de 1975, presidido por dom Paulo e com a presença do rabino Henri Sobel e do pastor protestante James Wright. Mesmo proibida qualquer menção a seu nome em veículos de imprensa, dom Hélder Câmara também compareceu, sem pronunciar palavra. Mais de 300 barreiras policiais impediam o acesso da população à catedral; ainda assim, 8 mil pessoas lotaram o lugar.
A memória
Da segunda metade dos anos 1970 em diante, a Igreja brasileira acertou o passo com a sociedade civil na caminhada de retorno à democracia. Entre 1976 e 1977, a CNBB lançou documentos denunciando de forma explícita casos como o que vitimou o padre João Bosco e o operário Fiel Filho. “A segurança, como bem da Nação, é incompatível com uma permanente insegurança do povo”, dizia uma dessas notas, condenando as “medidas arbitrárias”, os “desaparecimentos inexplicáveis” e “inquéritos aviltantes” promovidos pelos militares. Ainda assim, alguns bispos – entre eles dom Antônio Castro Mayer e dom Geraldo Sigaud – teriam, segundo o historiador Paulo César Bezerra, permanecido fiéis ao regime militar até o fim.

Com a consolidação da abertura política, a tensão entre religiosos e militares diminuiu. Entretanto, o lado da fé continuou somando vítimas, como o líder metalúrgico Santo Dias da Silva, militante da Pastoral Operária, morto pela Polícia Militar em outubro de 1979 enquanto participava de uma greve em São Paulo. A violência representou mais um abalo nas já frágeis estruturas do regime: o velório, novamente na Catedral da Sé, reuniu mais de 15 mil pessoas e o cenário forçou uma mudança de postura do governo com relação às entidades sindicais.
A CNBB assumiu no final da década papel ativo na campanha pela anistia e depois contribuiu na articulação do movimento Diretas Já. Além disso, seguiam os esforços para preservar a memória do período. A Editora Vozes, vinculada à Igreja Católica, editou o livro Brasil: Nunca Mais em 1985, meses depois da retomada da democracia. Se tinham sido fundamentais na sustentação do regime militar quando este se iniciou, no apagar das luzes da ditadura os religiosos abriam caminho para que não fossem esquecidos os duros anos de repressão.
O projeto Brasil: Nunca Mais resultou em cerca de 900 mil páginas, referentes a centenas de processos. O material foi microfilmado e enviado ao Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, na Suíça, para evitar que fosse apreendido e destruído pelos militares. Foram necessários 25 anos até que esse pedaço da história brasileira fosse repatriado. Em 2011, os microfilmes voltaram ao país, e em agosto de 2013 foi lançado o BNM Digital, site que disponibiliza a consulta a toda essa documentação.
Hoje, com a Comissão Nacional da Verdade e suas ramificações estaduais, o país busca iluminar os cantos escuros do período gerado pelo golpe e, a partir deles, enxergar melhor a si mesmo. A ditadura talvez não tivesse se consolidado sem a bênção inicial da Igreja Católica ao novo regime, mas as denúncias e a combatividade dos religiosos foram igualmente fundamentais na retomada da democracia.
SAIBA MAIS
Livros
Brasil Nunca Mais, dom Paulo Evaristo Arns, Editora Vozes, 1996
Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira: A Visão da Espionagem, Paulo César Gomes Bezerra, Editora Multifoco, 2013
A Ditadura Derrotada, Elio Gaspari, Cia. Das Letras, 2003
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/igreja-ditadura-como-religiosos-se-tornaram-maior-inimigo-militares-797115.shtml
INTERCEPTOR G5
Clique na imagem do Youtube abaixo para ir direto ao canal.
Inscreva-se:













 Uta era a mulher de Ekkehard II, o margrave do principado alemão de Meissen, perto das atuais Polônia e República Tcheca, no início dos anos 1000. Margrave é o título de nobreza do comandante militar de fronteira do império romano-germânico, ou seja, Ekkehard era um guerreiro. Eles viveram no castelo de Naumburg, às margens do Rio Saale. O casal não teve filhos e doou parte de seus bens para a Igreja, que construiu uma capela nas terras do nobre, um importante entroncamento de rotas comerciais. Em 1028, por ordem do sacro imperador romano-germânico Conrad II e do papa João XIX, o santuário deu lugar à Catedral de São Pedro e São Paulo de Naumburg. Quando a catedral foi consagrada, no século 13, o bispo Dietrich II pediu a seu mestre escultor para que Ekkehard II e Uta, com outros dez nobres, fossem homenageados na forma de um coro de pedra em tamanho natural – portanto, saiba a partir de agora que a escultura não tem nenhuma identidade com o personagem que retrata além da imaginação do artista que a criou.
Uta era a mulher de Ekkehard II, o margrave do principado alemão de Meissen, perto das atuais Polônia e República Tcheca, no início dos anos 1000. Margrave é o título de nobreza do comandante militar de fronteira do império romano-germânico, ou seja, Ekkehard era um guerreiro. Eles viveram no castelo de Naumburg, às margens do Rio Saale. O casal não teve filhos e doou parte de seus bens para a Igreja, que construiu uma capela nas terras do nobre, um importante entroncamento de rotas comerciais. Em 1028, por ordem do sacro imperador romano-germânico Conrad II e do papa João XIX, o santuário deu lugar à Catedral de São Pedro e São Paulo de Naumburg. Quando a catedral foi consagrada, no século 13, o bispo Dietrich II pediu a seu mestre escultor para que Ekkehard II e Uta, com outros dez nobres, fossem homenageados na forma de um coro de pedra em tamanho natural – portanto, saiba a partir de agora que a escultura não tem nenhuma identidade com o personagem que retrata além da imaginação do artista que a criou.